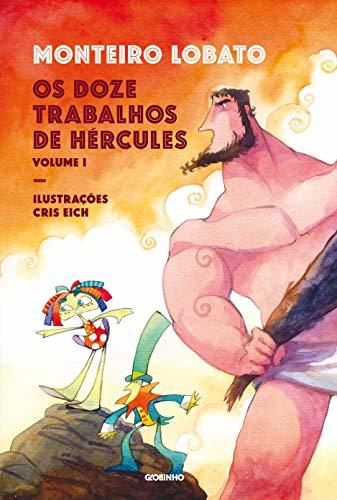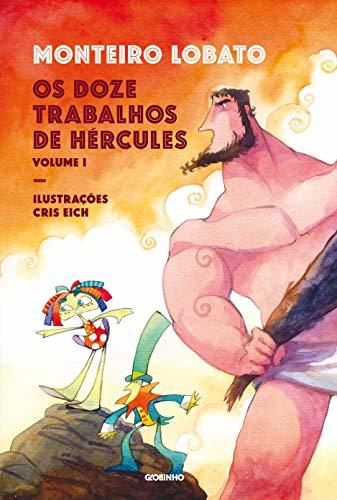A coleção do Sítio do Picapau Amarelo foi a primeira coisa em prosa, sem ilustrações, cheia de palavras que eu li. Tinha acabado de fazer 6 anos e ganhei de presente uma caixa enorme, que pensei que era brinquedo. Fiquei decepcionada ao encontrar ali uma pilha imensa de letras. Pensava em um castelo.
Depois de um tempo, que pode ter sido dias, semana ou mês — tempo de criança — resolvi que não havia nada melhor a fazer que não dar uma olhada naquelas palavras todas.
E não havia nada melhor para fazer do que dar uma olhada naquelas palavras todas.
O que Monteiro Lobato fez em sua coleção infantil foi extraordinário. Ele manteve, com crianças pequenas, debates relevantes sobre política, soberania nacional e filosofia. Falou para quase bebês sobre geologia e sobre como o petróleo podia ser brasileiro (how do you do, Mr. Kalamazoo?), no Poço do Visconde; enriqueceu meu universo de fantasias com o folclore brasileiro, com o Saci e o Curupira e a Cuca que ninguém mais canta que vai pegar, com as Reinações de Narizinho, as Caçadas de Pedrinho, as histórias de Tia Nastácia e através de sua obra; falou sobre a escassez de recursos naturais, a falha natureza humana, e os rumos sombrios das lideranças políticas de seu tempo em A Chave do Tamanho. Misturou Peter Pan e o Minotauro e com pó de pirlimpimpim, me levou a uma jornada pela Grécia mitológica que foi uma das bases mais profundas da minha formação intelectual. Suas heroínas, Narizinho e Emília, eram meninas brasileiras da minha idade que se ocupavam em transformar o mundo; seu herói Visconde era um cientista, um grande nerd, muito antes de Dexter e Big Bang Theory os tornarem bacanas.
Escolhi os 12 Trabalhos de Hércules para essa resenha porque a despeito das dezenas de vezes em que li diversos outros livros da coleção, nenhum outro me trouxe tanto entusiasmo, ou abriu tantas portas futuras, quanto a jornada deste herói que navega entre seus grandes talentos, seu imenso coração, e um destino marcado pela injustiça divina.
No entanto, Monteiro Lobato era um homem problemático até mesmo para seu tempo. Em especial, era racista, profundamente, convicto. Há infelizmente aspectos desse racismo em seu trabalho, e eu tento me perguntar no quanto isso pode ter me influenciado quando tão criança, crescendo em um Rio de Janeiro ainda pleno de piadas racistas e elevadores para serviçais nos anos 1980 e 1990. Lendo críticas a Lobato—sua obra em si nunca reli adulta—eu me pergunto se há alguma saída, alguma possibilidade de recuperação de seu trabalho, com censuras, com notas de rodapé, com instruções aos professores e pais. Maneiras de manter vivo aquilo que é bom, quase único. Mas penso ser difícil, muito difícil. Difícil porque desrespeitoso.
Décadas depois, consegui desconstruir muito do racismo estrutural que também se entranhou em mim. Parte disso envolve reconhecer o quanto devo a Lobato muitas partes que mais gosto de meu desenvolvimento intelectual—a curiosidade sobre o Brasil e sobre o mundo, sobre o que é clássico e sobre o que é atual—e entender que é parte de um passado, de uma impossibilidade presente. Que é ofensivo e dolorido e agente da perpetuação de uma dor que não é minha. Não é meu lugar, simplesmente, achar que esse dano é menor, contornável.
Com Lobato terei para sempre uma relação amarga de amor e decepção. Meus filhos não o lerão, a despeito de tudo que atribuo àquelas descobertas, àquela caixa—como o relacionamento difícil com um parente tóxico, mas com quem tivemos, um dia, uma bela história; de quem, no passado, recebemos uma mão amiga. Há uma decisão dolorosa entre o passado afetivo e o que é saudável no presente. Lobato não é saudável no presente, uma perda causada por si mesmo. E alguns anos depois de escrever essa resenha pela primeira vez, eu a edito—com esses novos parágrafos que a tornam parte agradecimento, parte confissão, e principalmente, parte adeus.